
Dois grandes momentos marcaram a vida da Igreja Católica no passado mês de outubro: a publicação da exortação apostólica Laudate Deum e a realização da primeira sessão da Assembleia do Sínodo dos Bispos sobre sinodalidade, marcos significativos que assinalam processos em aberto e de grande alcance.
No dia 4, festa litúrgica do Santo de Assis, o Papa Francisco publicou Laudate Deum, texto «sobre a crise climática», dirigido «a todas as pessoas de boa vontade». Abre assim: «“Louvai a Deus por todas as suas criaturas”: foi este o convite que São Francisco de Assis fez com a sua vida, os seus cânticos e os seus gestos. Retomou assim a proposta dos salmos da Bíblia e reproduziu a sensibilidade de Jesus para com as criaturas de seu Pai » (n. 1). Depois de ter publicado a encíclica Laudato si’, em 2015, sobre «o cuidado da casa comum», Francisco dá, hoje, nota «de que não estamos a reagir de modo satisfatório», já que «este mundo que nos acolhe está-se esboroando e talvez aproximando dum ponto de rutura». Embora haja, fora da Igreja como dentro dela, quem minimize, menospreze e chegue mesmo a ridicularizar semelhante preocupação, Francisco afirma não haver dúvida de «que o impacto da mudança climática prejudicará cada vez mais a vida de muitas pessoas e famílias» e que «sentiremos os seus efeitos em termos de saúde, emprego, acesso aos recursos, habitação, migrações forçadas e noutros âmbitos» (n. 2). Trata-se de um «problema social global», «intimamente ligado à dignidade da vida humana» (n. 3).
Os tons carregados com que o Papa aponta para esta crise global fazem recordar palavras de Greta Thunberg, ditas em 2019, que o escritor Alberto Manguel trouxe para o seu artigo “A Divina Comédia como guia de viagem”, que a Brotéria publicou no número de agosto/setembro de 2023: «estamos num momento da História em que todos quantos têm alguma perceção da crise climática que ameaça a nossa civilização – e toda a biosfera – devem falar, em linguagem clara, por mais desconfortável e pouco rentável que seja. Temos de mudar quase tudo nas nossas sociedades atuais. Quanto maior for a nossa pegada de carbono, maior será o nosso dever moral. Quanto maior for o nosso palco, maior será a nossa responsabilidade […]». E rematava, «quero que se comportem como se estivessem em crise […]». O assunto, o tom e a abordagem não são pacíficos, mas será essencial que a degradação ambiental e o crescimento de injustiças que lhe estão associadas, fruto de ambientes naturais e sociais sempre mais empobrecidos e inóspitos, nos toquem, e, de algum modo, nos deixem em crise. O desconforto das crises sentidas na própria pele traz consigo a força capaz de romper conformismos e indiferenças e de conduzir a uma mobilização para as mudanças necessárias. No presente número, o jesuíta e economista francês Gaël Giraud adverte para a necessidade de imaginar já não só outro tipo de globalização económica, com a transição energética que se impõe, mas também de mundialização, que encare o futuro viável de um mundo partilhado, estruturado por instituições internacionais que sejam capazes de tomar a seu cargo os bens mundiais que são de todos: a Amazónia, os fundos marinhos, a atmosfera, as reservas de pesca, a água doce, o espaço, entre outros. O que poderia parecer uma utopia impossível, parece desenhar-se como o bom lugar de que temos absoluta necessidade, com o qual temos o dever ético e espiritual de nos comprometermos. Pela denúncia de desmandos e de causas humanas que lhe estão na origem, é para o desenho de promessas de futuro e de compromisso efetivo com elas que esta nova exortação do Papa aponta. Precisaremos, para isso, de nos deixarmos afetar e, parafraseando o filósofo Hans Jonas, de nos movermos a agir de tal modo que os efeitos da nossa ação sejam compatíveis com a permanência de uma vida autenticamente humana sobre a Terra.
O segundo acontecimento foi a primeira sessão da XVI Assembleia geral do Sínodo dos Bispos da Igreja Católica, que teve início também no dia 4 de outubro, sobre o tema “Por uma Igreja sinodal. Comunhão, participação, missão”. Outra sessão se seguirá dentro de um ano, que encerrará o processo que teve o seu início em outubro de 2021, com a fase da escuta alargada dos cristãos e das igrejas, primeiro a nível local, depois a nível das conferências episcopais, para terminar no nível continental, nos primeiros meses de 2023. Dos resultados deste amplo processo de consulta deu conta o Instrumentum Laboris (Instrumento de Trabalho – IL), publicado no passado mês de junho, que serviu de base e de subsídio prático para os trabalhos da Assembleia geral. Mais do que os documentos produzidos, o principal fruto do percurso feito até agora – no momento em que escrevo, estamos ainda nos primeiros dias da Assembleia – está essencialmente nos muitos encontros de tomada de palavra e de escuta que gerou nos vários níveis da Igreja, encontros nos quais, em muitos casos, se começou a usar uma metodologia de efetiva participação plural, pouco habitual em muitos ambientes eclesiais, nos quais se enfrentaram questões que, habitualmente, são mais objeto de polarizações e de lutas do que de diálogo franco e de debate argumentado. Como as várias sínteses das consultas e o IL expõem, o processo sinodal não tem iludido temas e questões difíceis, nem escondido conflitos. Assumindo decididamente a direção tomada pelo Vaticano II e procurando realizar algo de muito elementar da identidade cristã, o caminho sinodal tem permitido a tomada de consciência da dignidade que o batismo confere a cada batizado, não importando se é homem ou mulher. Como tal, constitui-o sujeito livre e responsável de pleno direito na vida e na missão da Igreja – esta mesma, um sujeito coletivo –, ainda antes que lhe seja reconhecido um carisma particular ou confiado um ministério específico. A unidade de todos em Cristo é o vínculo originário que precede, sustem e reposiciona as diferenças que constituem a comunidade eclesial, não certamente segundo a lógica do domínio de uns sobre outros ou de uma qualquer hierarquização sacral, de género ou de honra. Esta mesma variedade, tanto de vocações, de carismas e de ministérios, como de línguas, expressões litúrgicas e traduções teológicas, tem sido reconhecida no processo sinodal. Tal diversidade não fere a unidade, mas, antes, expõe a sua riqueza. Quanto a temas eclesialmente exigentes e culturalmente sensíveis, o caminho está só no início; pedirá tempo de maturação à luz do Evangelho e a experiência humana, e, claro, liberdade e coragem evangélicas.
Como é sabido, o próprio tema da sinodalidade e da forma de governo que realiza, com os seus pressupostos teológicos e as suas possíveis implicações práticas, não é de todo pacífico na Igreja. Exemplo disso foram as dúvidas (dubia) colocadas diretamente ao Papa, no mês de julho passado, por cinco cardeais, tornadas públicas recentemente. Entre elas está uma que diz explicitamente respeito à sinodalidade. Questiona, em concreto, «se a sinodalidade pode ser critério regulamentar supremo do governo permanente da Igreja sem alterar o seu regime constitutivo desejado pelo seu Fundador [Jesus Cristo], para o qual a suprema e plena autoridade da Igreja é exercida seja pelo Papa, em virtude do seu cargo, seja pelo colégio dos bispos juntamente com a sua cabeça, o Romano Pontífice». A tal questionamento, o Papa Francisco respondeu que «a Igreja é um “mistério de comunhão missionária”». Porém, «esta comunhão não é somente afetiva e etérea, mas implica uma participação real: não só a hierarquia, mas todo o Povo de Deus em modos diversos e em diferentes níveis pode fazer ouvir a própria voz e sentir-se parte do caminho da Igreja. Neste sentido – acrescenta – podemos dizer que a sinodalidade, como estilo e dinamismo, é uma dimensão essencial da vida da Igreja». Já outra coisa, refere noutra alínea, «é sacralizar ou impor uma determinada metodologia sinodal que agrada a um grupo, transformá-la em norma e percurso obrigatório para todos, porque isto levaria somente a “congelar” o caminho sinodal, ignorando as diversas características das várias Igrejas particulares e a variegada riqueza da Igreja universal».
Convocar a sinodalidade para o centro da escuta e do debate eclesial significa ter de enfrentar especificamente o tema da autoridade, do exercício do poder, da participação ativa de todos os batizados, do sexo masculino e do sexo feminino, na vida da Igreja, pela qual cada um partilha livremente responsabilidade – responsável pela Igreja é toda a comunidade sacerdotal. O tipo de dúvidas referido, na medida em que, segundo a leitura que faço delas, expõe o clericalismo como lógica de compreensão e de exercício da autoridade na Igreja, tem o mérito de aprofundar a sinodalidade como seu direito. O clericalismo corresponde uma forma de compreender a Igreja em relação ao qual o Papa Francisco não tem poupado nos qualificativos. Assenta na distinção substancial entre clero e leigos, como se o sacramento da ordem fosse superior ao sacramento do batismo, e na submissão à hierarquia segundo o entendimento prévio ao Vaticano II da Igreja como “sociedade desigual” (ao clero, por direito e autoridade, cabe mandar; aos leigos cabe deixar-se guiar e obedecer qual rebanho dócil), o que gera e cultiva a autorreferencialidade da Igreja, retirando-lhe fôlego espiritual e vitalidade evangélica e deixando-a incapaz de relações fecundas e de presença profética no mundo em que vive. Tendo-se tornado tão estrutural, o tema da autoridade e do poder, entendido segundo o modelo clerical, não pode ser contornado «com uma “reviravolta espiritual” que transforme, de uma só vez, todo o poder em serviço», defende o teólogo Andrea Grillo na introdução à edição portuguesa de Uma Igreja transformada pelo povo, livro coordenado pelos franceses Michel Camdessus, economista, e Hervé Legrand, teólogo dominicano (no presente número, pode ser lida a recensão de José Borges de Pinho; de A. Grillo, sobre clericalismo, o leitor poderá tirar grande proveito do artigo “Clericalismo e Igreja em saída. Fisiologia e patologia de uma relação fé mundo”, que a Brotéria publicou no número de agosto/setembro de 2023). Ora, «ao risco do clericalismo – afirma o teólogo italiano – só se pode responder com uma “partilha de poder”», sendo a sinodalidade «a forma eclesial desta partilha», «o “método jurídico” de participação na autoridade». Por isso, «a única saída do clericalismo consiste em ativar, ampla e profundamente, a lógica sinodal, no modo como a Igreja toma decisões, realiza discernimentos, promove, trabalha e perdoa». A ser assim, percebemos quanto é relevante para a vida e a missão da Igreja o que está em jogo neste sínodo em curso, não só no que diz respeito a conclusões a que poderá chegar sobre temas específicos, eclesial e culturalmente sensíveis, mas, desde já, no que diz respeito à compreensão da identidade sinodal da Igreja, ao modo efetivo como se realiza e como modela a missão de anunciar, hoje, o Evangelho de Jesus.
Neste quadro, poderão ser particularmente elucidativas as notas históricas e teológicas recolhidas por H. Legrand na obra já referida (retomo aqui, em parte, a apresentação que fiz do livro no portal digital Pontosj, dia 13 de setembro de 2023). A breve reconstrução histórica «da longa memória da Igreja», centra-se em quatro traços relevantes da identidade eclesial e do exercício do poder na Igreja, incontornáveis no debate eclesial atual: concentração do poder nas mãos do clero; chamamento ao ministério ordenado; poder sacerdotal ordenado ao único sacerdócio de Cristo; hierarquização entre homens e mulheres. Revisitando a tradição viva da Igreja, aprendemos com o dominicano francês, que aquilo que parecia ser desde sempre e que, por isso, deveria ser para sempre, afinal, não o é, sendo até, em vários casos, relativamente recente na história da Igreja. Por isso, à luz do Evangelho e da experiência humana, a fidelidade à grande tradição e à sua força generatriz, poderá pedir, não a conservação, mas a mudança.
Expõe-se, em primeiro lugar, como a concentração de todos os poderes nas mãos do Papa e do clero não é tradicional, mas que é, antes, uma criação da modernidade já tardia. Se na modernidade o poder dos clérigos é concebido como poder sobre a Igreja, a tradição mais antiga concebe-o «como sendo exercido na Igreja e não sobre ela». A reforma gregoriana dos inícios do segundo milénio «foi a remota antecipação da situação atual», ao desqualificar religiosamente os leigos e absolutizar o poder papal, o que conduz «à obliteração da colegialidade e da sinodalidade». Esta será «redescoberta no Concílio Vaticano II», em concreto, quando compreende «a Igreja como povo de Deus». O autor afirma, por isso, ser «claro que a atual concentração de todos os poderes nas mãos do clero não é resultado de um desenvolvimento homogéneo da tradição», o que concede liberdade à Igreja de hoje «para introduzir mais colegialidade e mais sinodalidade na sua vida» e, se necessário, «para corrigir certas trajetórias que se tornaram doutrinalmente unilaterais». Tal resultado, é bom ter disso consciência, não se alcançará com meras exortações à boa vontade, mas pedirá transformações institucionais a realizar sobre as bases lançadas pelo Vaticano II.
O segundo tema é o da vocação ao ministério e do alargamento das formas de chamamento. O entendimento atual da vocação é de que se trata de um chamamento pessoal de Deus a batizados do sexo masculino, mediado pela Igreja. A «prioridade é dada aos sujeitos e já não ao objeto do ministério», o que paralisa «os bispos no seu dever de escolher pastores cuja necessidade é evidente». Resulta, pois, que «quando já não houver mais candidatos, por falta de persuasão íntima que deles se exige, fecham-se os seminários maiores, como agora; e caminhamos para uma Igreja sem sacerdotes». Paralelemente, «este sistema de candidatura obriga a dissuadir certos voluntários, ao mesmo tempo que impede de recorrer àqueles que, de acordo com o testemunho dos fiéis e membros do clero, possuam as necessárias aptidões espirituais e humanas». Legrand ilustra, porém, como a tradição não impõe «tal perversão», assim a classifica. Recorda, por isso, como «ao longo do primeiro milénio, e bem para lá dele, ninguém expressou o desejo de se tornar sacerdote. Todos os textos, inclusive as instruções papais, atestam o desejo das comunidades de obter um determinado cristão como seu pároco, desejo sempre respeitado, se necessário, pelo constrangimento, mesmo físico, exercido sobre o recém-ordenado». Se, hoje, é claro que não se pode recorrer a tais práticas de constrangimento, pode-se, sim, tomar «como ponto de partida do processo que leva à ordenação sacerdotal, não a diligência de um cristão individual, mas o facto de a Igreja não poder prescindir de pastores». À igreja local caberia individuar que tipo de pastor precisaria para o serviço mais adequado do Evangelho e da Igreja, identificar as pessoas que teriam as qualidades cristãs e humanas para tal serviço e chamá-las a exercer tal ministério em favor da comunidade.
“O poder sacerdotal deve ser entendido, de acordo com a grande Tradição, como um ministério do único sacerdócio de Cristo”, introduz um terceiro tema. Na forma de entendimento dos poderes sacerdotais e da consequente sacralização dos seus titulares estará uma fonte de alimentação do clericalismo na Igreja. «A existência de dois sacerdócios – o dos fiéis e o dos sacerdotes – de essências essencialmente diversas», expõe-se, por exemplo quando «o Direito Canónico prevê o sacerdócio ministerial com base no carácter sacerdotal recebido na ordenação», estabelecendo «uma capacidade exclusiva para agir na pessoa de Cristo Cabeça», qual «marca indelével, que os interessados jamais podem perder e que lhes permite exercer, em total autonomia, os poderes recebidos, quaisquer que sejam as vicissitudes da sua vida cristã». Legrand defende que esta é uma problemática que surgiu apenas no século XIII, sob influência da aplicação de categorias aristotélicas de causalidade, e que «a tradição antiga coloca o poder dos sacerdotes na sua qualidade de pastores, presidindo à assembleia de um povo todo ele sacerdotal». Acrescenta que a tradição antiga «ignora a ideia de que os sacerdotes teriam um poder inerente à sua pessoa, que usariam à vontade fora desse contexto, e que seria de natureza essencialmente diferente daquela que existe fundamentalmente em todos os batizados». Importaria, por isso, aprofundar o ministério ordenado mais centrado no serviço a Cristo e à Igreja – é a eles que o ministro está ordenado – e menos na identidade sacerdotal de cada sujeito individual.
Por fim, apresenta-se a fraternidade cristã como superação da hierarquização entre mulheres e homens na Igreja: o que vale para o mundo deverá valer também para a Igreja, sendo que esta não terá autoridade na sua mensagem se não se transformar neste campo. «Como esperar um pouco mais de fraternidade no nosso mundo, sem a experimentarmos nós mesmos na relação íntima que se estabelece entre homens e mulheres e na nossa comunidade de fé?», interroga-se Legrand como conclusão do seu texto. Na apresentação ao livro, Grillo defende que «devolver a palavra às mulheres e reconhecer a sua autoridade é um processo de transformação cultural e institucional em que não é o Evangelho que muda, mas somos nós que começamos a entendê-lo melhor, de acordo com a conhecida expressão atribuída a João XIII, no seu leito de morte». Para isto mesmo, Legrand defende que a Igreja «deve lembrar-se ativamente da abolição de toda a hierarquização entre os seus membros», tendo bem presente que «Jesus ignorou deliberadamente a hierarquia entre homens e mulheres entre os seus discípulos» e procurando compreender as razões de adaptação cultural que foram levando a que a Igreja se fosse afastando progressivamente dessa prática disruptiva de Jesus. Ainda que se reconhecesse equivalência espiritual das mulheres cristãs em relação aos homens, foi-se afirmando a subordinação social, sobre a base, não evangélica, mas cultural, da sua menoridade natural em relação ao homem e da sua incapacidade estrutural para exercer autoridade pública. Neste quadro, o autor aponta quatro pistas como trabalho de casa, no qual a Igreja se deve aplicar: «dar voz às mulheres», para que o discurso sobre elas não seja redundante e não seja feito de frases feitas e de características supostas, ditas essencialmente por homens; «desenvolver a cultura histórica», «já que o anacronismo com que tratamos a história da Igreja e das mulheres é tão irritante como se censurássemos a Igreja por não ter suscitado um movimento a favor da democracia, no século de Luís XIV, ignorando, deste modo, a fragilidade das ideias no contexto das transformações sociais»; «considerar sempre as mulheres e os homens juntos» em qualquer assunto que diga respeito à vida da Igreja; «em todo o desejo de transformação, jamais permitir que se acredite que a mulher é um problema para a Igreja»: se há um problema, ele será encontrar uma parceria justa.
Como sintetiza A. Grillo na sua apresentação, «as páginas deste texto podem ajudar a redescobrir coisas antigas na Palavra de Deus e na tradição que são surpreendentemente sãs e vivas, enquanto algumas coisas recentes podem ser pouco pensadas e muito unilaterais. Algumas coisas que parecem muito antigas são invenções de anteontem. Algumas coisas que parecem ser novidades perigosas são formas tradicionais de sabedoria antiga». Por isso, «só num renovado caminho comum, a ser feito plenamente e sem medo, voltará o exercício de autoridade a ser um lugar aberto ao mistério». Com o Sínodo em curso, algo do género já está a acontecer. Só podemos augurar-nos que a prática continue a ser aprofundada e consolidada.
Podcast

.png)
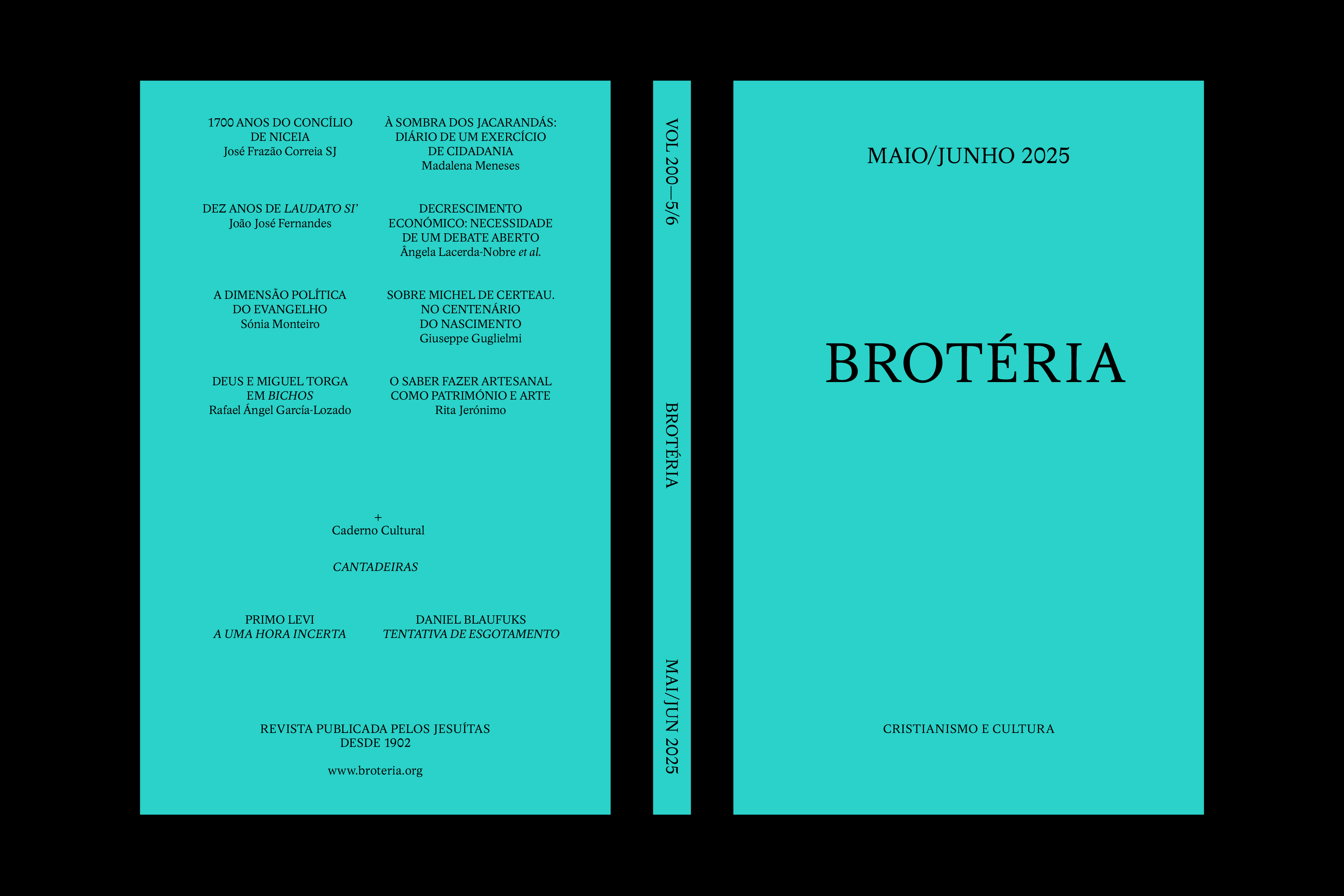
.%5B2%5D.png)
.png)
.%5B1%5D.png)
.png)



















































 copy.jpg)









.jpg)


























.jpg)
.jpg)
.jpg)


